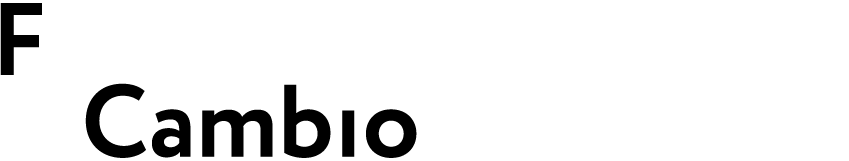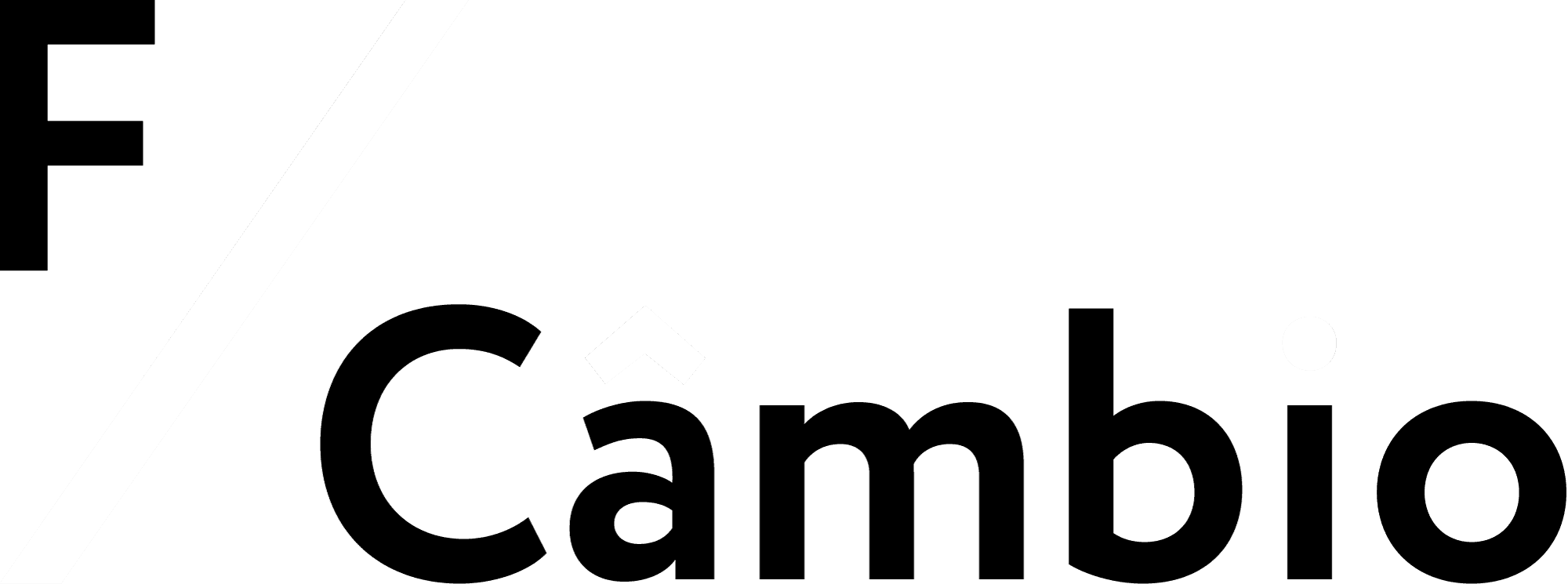Por Rafaella Ribeiro, de Lisboa
Portugal tentou resolver o problema das barracas construindo bairros sociais planejados. O resultado foi uma lição sobre como boas intenções podem perpetuar a exclusão — só que agora com tijolos e contratos de arrendamento.
A diferença para as favelas brasileiras é brutal: enquanto no Brasil os moradores construíram seus territórios com as próprias mãos, em Portugal o Estado entregou a solução pronta. Mas ambos enfrentam o mesmo estigma, a mesma marginalização, a mesma luta por dignidade.
A formalização que não resolveu nada
O Programa Especial de Realojamento (PER), lançado em 1993, tinha uma missão clara: acabar com as barracas que se espalharam pelas periferias de Lisboa e Porto após a chegada de imigrantes das ex-colônias africanas nos anos 1980 e 1990.
O diagnóstico parecia óbvio. Famílias inteiras viviam em condições precárias, sem saneamento básico ou eletricidade, em terrenos baldios da periferia. A solução? Construir conjuntos habitacionais financiados pelo Estado e transferir essas populações para a “cidade formal”.
Resultado: a arquitetura vertical substituiu o improviso horizontal das barracas, mas a segregação social permaneceu intacta.
“O que se deu, em muitos casos, foi a realocação da exclusão,” disse Rafaella Ribeiro, da CUFA Portugal.
Bairros como Zambujal, Cova da Moura e Casal da Boba viraram símbolos de como uma política pública bem-intencionada pode reproduzir os problemas que pretendia resolver.
A lição brasileira
As favelas brasileiras nasceram de uma lógica completamente diferente. Sem acesso à moradia formal, milhares de famílias ocuparam morros e encostas das grandes cidades e construíram suas casas com esforço próprio.
Foi uma urbanização que veio de baixo, lenta e desigual, mas que criou territórios com identidade própria. Ruas estreitas, redes de vizinhança, cultura efervescente, empreendedorismo de sobrevivência.
A diferença fundamental está no sentimento de pertença. A favela, mesmo construída na ausência do Estado, é território conquistado. Muitos bairros sociais portugueses, apesar de oferecidos como “solução”, são vividos como espaços de transição, onde o morador nem sempre sente que pertence.
O estigma que une
Independentemente de como foram construídos — por ocupação informal no Brasil ou por projeto estatal em Portugal — ambos carregam marcas comuns: o estigma da pobreza, o olhar de desconfiança da sociedade, a dificuldade de acesso a serviços públicos de qualidade.
A criminalização sistemática de seus moradores é outra característica compartilhada. Nos dois casos, o endereço funciona como uma marca que dificulta o acesso ao mercado de trabalho, ao crédito, a oportunidades.
Mas há uma resistência comum também. Nos bairros sociais portugueses, cresce uma juventude que carrega histórias de África e da diáspora, reinventando Portugal à sua imagem. Nas favelas brasileiras, artistas, líderes comunitários e educadores transformam seus morros em centros de criação e inovação.
A potência da margem
A lição que emerge dessa comparação é incômoda: não basta construir casas se não se constrói dignidade junto.
Portugal gastou milhões em programas habitacionais que reproduziram a exclusão em formato vertical. O Brasil deixou que as favelas crescessem sem planejamento, mas permitiu que seus moradores construíssem territórios com identidade.
Nenhum dos dois modelos é ideal, mas ambos provam que as periferias não são apenas lugares de ausência. São laboratórios de resistência, criação e reinvenção.
A questão não é saber quem sofre mais ou quem tem menos. É reconhecer que existe uma potência na margem que as políticas públicas ainda não aprenderam a enxergar.