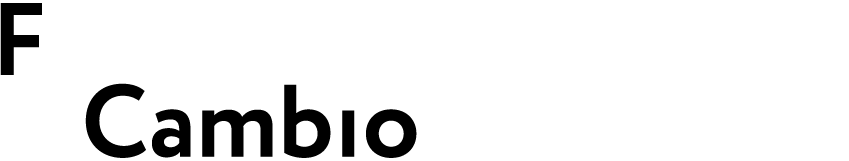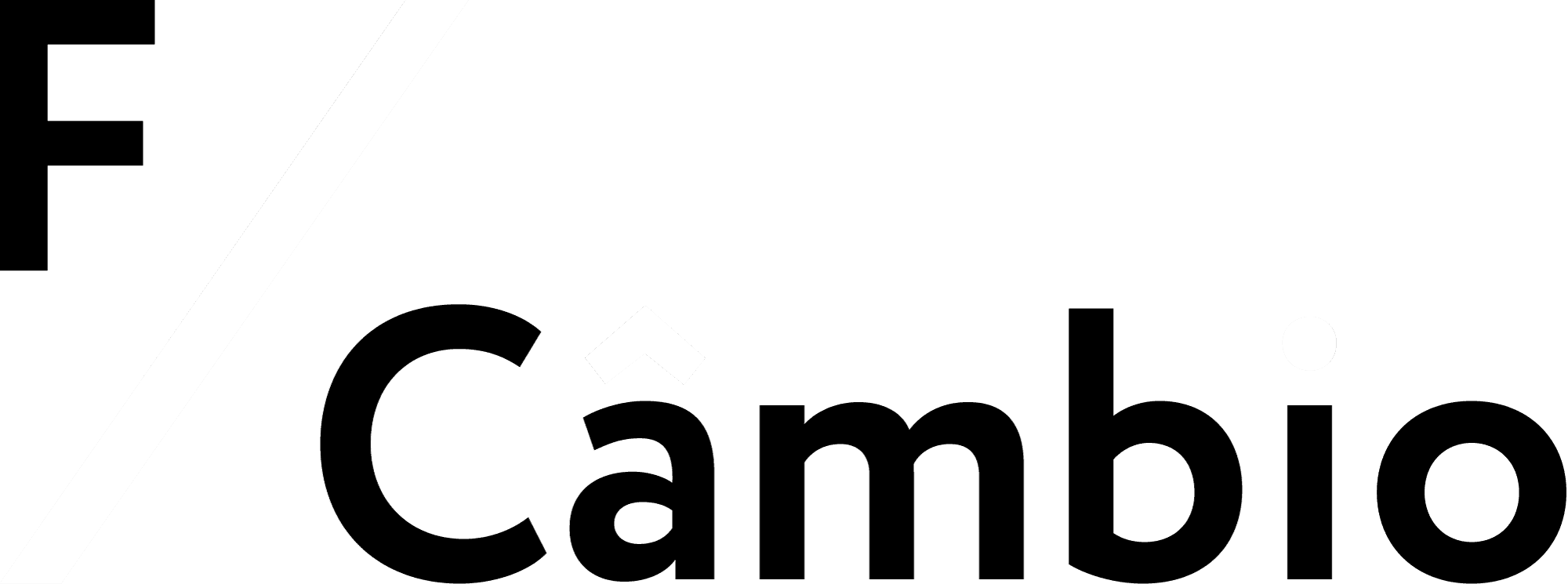Por Ana Paula Carvalho
O que faz uma criança se sentir parte de um lugar? É o cheiro da comida de casa, o sotaque dos avós, a calçada onde se brinca, a roda de histórias, o som da festa no bairro. É o que se repete, o que permanece, o que liga. Tudo isso é patrimônio. E, mais que memória, é direito. O direito à cultura começa na infância — no direito de pertencer.
Patrimônio é mais do que herança: é processo vivo. Vive nas rodas de conversa, nos gestos cotidianos, nos cantos do território. Está nos objetos, mas também nos afetos. E, se a infância é o tempo em que mais intensamente se aprende o mundo, ela é também o tempo em que se forma o laço com o lugar. Há uma geografia da infância feita de vínculos, de chão, de cheiro, de histórias que se contam no percurso.
Ainda assim, milhões de crianças crescem hoje distantes dessa vivência. E não apenas nas favelas ou nas regiões sem acesso a políticas públicas. Também nos condomínios fechados, nos apartamentos de classe média, nas famílias que migram por oportunidades de trabalho, deixando para trás a casa dos avós, a praça perto da escola, o cheiro da infância. Crianças cujas rotinas são preenchidas por telas, compromissos esportivos, escolares e pela terceirização do cuidado. Crianças que não têm mais “bairro” — têm condomínio. Que não têm memória de rua — têm lembranças de tela. A solidão da infância é silenciosa e, muitas vezes, invisível. Mas ela existe.
Patrimônio não é apenas aquilo que os livros da política registram. É o que a vida repete com sentido. E esse sentido está ameaçado quando os laços com a cultura se tornam frágeis. Quando o tempo da infância é colonizado por agendas adultas, por urgências econômicas, por isolamento. Nesse cenário, é urgente dizer: o direito à memória, à cultura, à tradição — e também à invenção — é direito de toda criança. E não há infância plena sem esse direito.
Um lugar só vira lar quando alguém nos ensina a olhar para ele com afeto. Por isso, a educação patrimonial na infância não é luxo — é urgência.
A educação patrimonial — ou, se preferir, a formação cultural do pertencimento — não é disciplina escolar, museal ou cultural: é política de vida. É formar sensibilidade, escuta, lugar de fala e pertencimento. É garantir que uma criança possa reconhecer a si mesma em seu território — mesmo que esse seu lugar seja móvel, múltiplo, fragmentado. É ensinar que memória não é prisão ao passado, mas elo com os outros, e consigo mesma. Que tradição não é estática, mas enraizamento dinâmico.
Como disse Paulo Freire, educar é um ato de amor. E amar é escutar e criar lugar de fala. Escutar o que as crianças têm a dizer sobre seus lugares, seus medos, seus desejos, suas percepções. Elas têm voz. A pergunta que se impõe é: estamos ouvindo?
É preciso reinventar os espaços de escuta e de mediação. Que a escola seja um espaço de diálogo com as culturas locais, mas também com as culturas das migrações, das famílias em trânsito, das infâncias atravessadas por deslocamentos, por tecnologias, por solidões modernas. Que o museu seja também um quintal — e o quintal, um lugar de saber.
A Sociomuseologia, entre outras abordagens críticas da cultura, tem provocado a reflexão sobre o patrimônio não como acervo, mas como vínculo. Vínculo que se rompe quando não se reconhece, na criança, um sujeito cultural. Vínculo que se refaz quando a infância é tratada como produtora de sentido, guardiã de histórias, tecelã de futuro.
Se é verdade que a tradição não é cultuar as cinzas, mas manter viva a chama, como disse Gustav Mahler, então essa chama se alimenta da presença das crianças nos rituais cotidianos da memória. Se não puderem estar na roda, que seja a roda a buscá-las. Se não puderem ficar no território, que seja o território a criar novos modos de permanecer dentro delas.
Falar de patrimônio como direito da infância é propor uma política do presente. É afirmar que nenhuma criança deve crescer sem raízes afetivas, sem saber de onde veio, sem reconhecer o valor daquilo que constrói junto com os outros. É uma convocação à escuta, à mediação, ao cuidado. E, sobretudo, ao afeto como ferramenta política.
Porque toda infância, ao seu modo, guarda uma herança invisível. E toda sociedade que cuida da infância cuida do seu próprio amanhã. Patrimônio não é uma vitrine congelada do passado — é um espelho embaçado pela nossa ausência afetiva. Uma infância que não reconhece sua rua como história aprende apenas a passar por ela — nunca a pertencer.